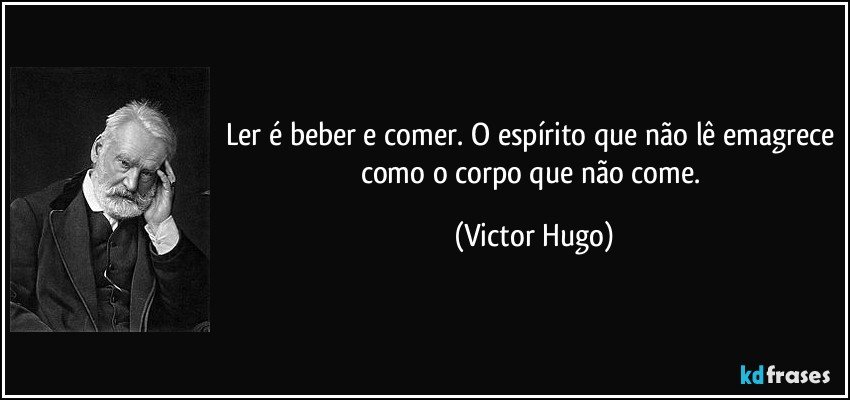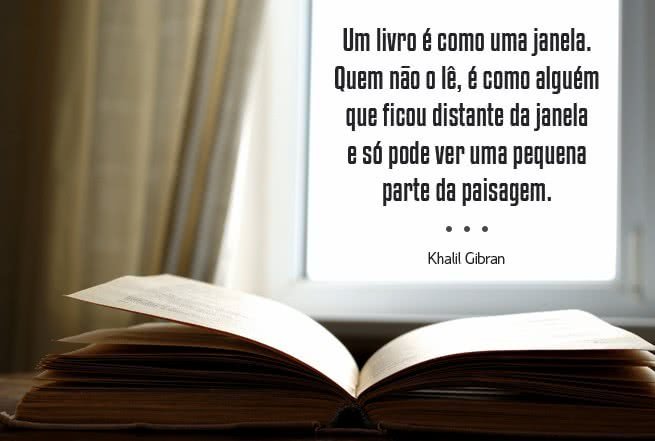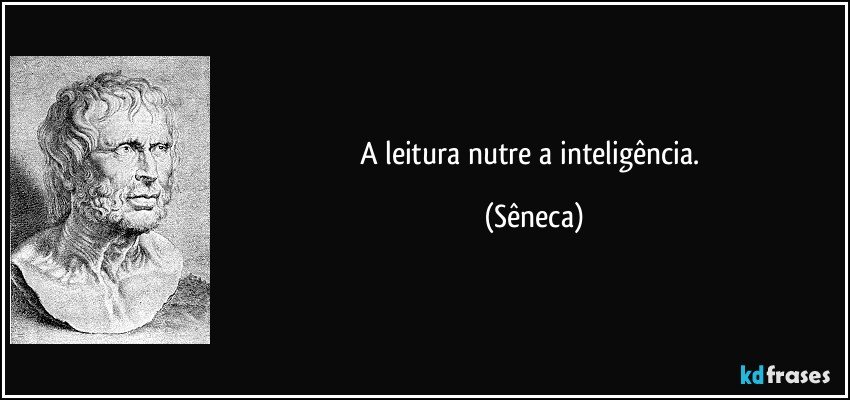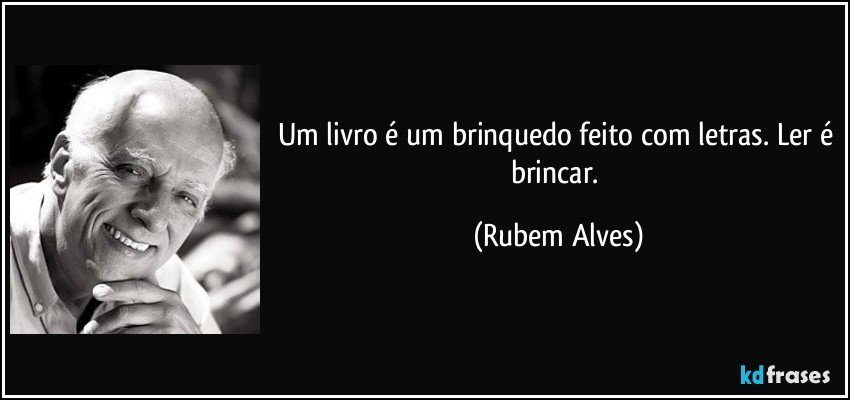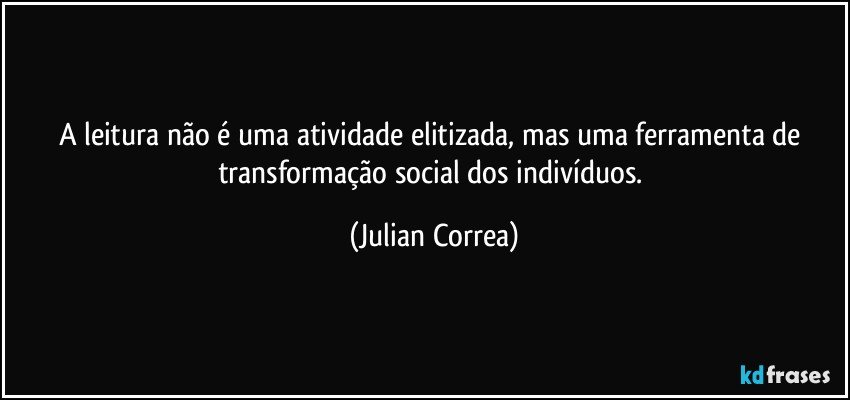Por Adriana Brandão
O “Mapeador de Ausências”, último romance do moçambicano Mia Couto, acaba de ser traduzido para o francês. O livro, que chegou às livrarias da França no início de setembro, foi selecionado para o importante prêmio literário Femina. O escritor veio a Paris participar da promoção do romance, publicado na França pela editora Métailié e traduzido por Elisabeth Monteiro Rodrigues.
Mia Couto, que se define como um “poeta que tem a ousadia de entrar no universo da ficção”, é um dos maiores escritores contemporâneos em língua portuguesa. Ele é autor de mais de 30 livros, traduzidos em mais de 30 países, e muitas vezes pressentido para o Nobel de Literatura.
“O Mapeador de Ausências”, em francês “Le cartografe des absences”, foi publicado em português em 2020. O romance conta a história de um intelectual e poeta moçambicano branco que volta à sua cidade natal, Beira, em busca de seu passado. A viagem acontece sob a ameaça iminente do ciclone Idai, que destruiu a região em março de 2019.
A história, narrada no estilo poético e polifônico que caracteriza a obra de Mia Couto, navega entre duas linhas temporais, o presente às vésperas do ciclone e o começo dos anos 1970, época da guerra pela independência de Moçambique, ainda colônia portuguesa. No centro do livro está um massacre, o massacre de Inhaminga.
Nesta entrevista à RFI, Mia Couto confirma que este é o seu livro mais autobiográfico, mas que usa a própria história para contar como era esse tempo que os moçambicanos chamavam de “Guerra de Libertação Nacional” e os portugueses de “Guerra Colonial”.
Falsas ausências
As ausências de que fala o título, “são falsas ausências”. São as ausências do pai, jornalista e poeta, engajado na luta contra a colonização e perseguido pela polícia política, e de pessoas que foram invisibilizadas no passado, como a população negra, mulheres e homossexuais. O escritor resgata a história de seu país, mas não “como uma missão”. Mia Couto diz que essa história oficial “tem um exercício de esquecimento” fascinante e que escreve para “construir uma outra versão”.
Nessa e em outras de suas obras, ele aborda os paradoxos do colonialismo e nessa entrevista faz um paralelo com o Brasil, que ele considera como uma segunda pátria: “Em Moçambique, e mesmo no Brasil, a herança colonial persiste”. O escritor moçambicano tem uma relação estreita com a cultura brasileira e comenta com frequência a atual situação política no país. Ele avalia que o Brasil está diante de uma “escolha quase de civilização. O problema não é só o Bolsonaro, o problema é tudo que está por trás do Bolsonaro, esse Brasil que eu não sabia que existia e que existia com tanta dimensão”.
RFI: Mia Couto “O Mapeador de Ausências” é o seu livro mais autobiográfico?
Mia Couto: Sim. Eu não sabia, quando comecei o livro, o que ele iria ser, mas sabia que eu ia percorrer esse meu passado sempre com a intenção de que, ao trazer esse passado, eu não estaria contando a minha própria história; eu estaria usando a minha história do que foi esse tempo, que foi na minha cidade um tempo muito rico porque a ‘Guerra Colonial’, como os portugueses chamavam e nós chamávamos de ‘Guerra de Libertação Nacional’, dividia a população em dois mundos. Mas os dois mundos enlouqueceram porque para uns era o anúncio de um certo futuro, um futuro luminoso, e para outros o anúncio do fim do mundo.
Que ausências são essas que o personagem mapeia?
MC: São falsas ausências. (O livro) começou pela ideia que havia que meu pai tinha sido um pai ausente, que não deixou marca. Na verdade, essa minha visita que eu faço agora à cidade para fazer esse livro ela ressuscita a presença do meu pai, fundamental. Da mesma maneira, alguma coisa no meu passado me foi entregue como sendo invisível, como sendo não existente. Portanto, quando eu conto a história desse lado ausente do meu pai, eu conto também a história daqueles que foram tornados ausentes, no sentido de tornados invisíveis no passado.
No centro deste livro está um massacre, o massacre de Inhaminga. A história de Moçambique, este país que como você escreve em “O Mapeador de Ausências” tem memória curta, lhe inspira e está presente em praticamente todos os seus livros. Resgatar essa história é seu objetivo?
MC: Sim, mas não como um sentido de missão. Eu não me apresento com essa intenção. Essa história tem um exercício de esquecimento que me entusiasma. Me fascina como o esquecimento é uma construção ficcional, no fundo. Não é um lapso, não é uma ausência. Eu dialogo com esse aparente vazio que se criou sobre a escravatura, sobre a colonização, sobre a guerra civil depois da independência, para construir uma outra versão da história.
Você começou a escrever o romance desse regresso ao passado, à infância, antes do ciclone. Por que decidiu incorporar à catástrofe à sua narrativa?
MC: O ciclone apareceu e, de alguma maneira, ele vai perturbar e trazer um final para essa história. De fato, o livro já estava muito adiantado quando aconteceu o ciclone e como tu podes imaginar, meses antes não fazíamos ideia nenhuma do que ia acontecer. Mas nessa altura, eu sobrevoei a cidade, quando os aviões puderam começar a sobrevoar a cidade, e eu chorei no avião porque eu não vi a minha terra. A terra estava submersa. Sabia-se que ali estava a terra porque havia árvores que emergiam daquela superfície da água e para mim era um sinal. Eu perdi o chão da minha vida. Tudo aquilo que dava fundamento, sustento, essa coisa da ligação com a terra, estava cortado e eu pensei: ‘se calhar isso é um sinal de que esse livro tem de fazer o regresso aquilo que era antes’.
Perdeu o chão que o personagem tenta recuperar?
MC: Sim, era como se eu e meu personagem estivéssemos a trabalhar juntos nesse ciclo, no desfecho desse ciclo.
O personagem principal é poeta, que vai em busca da memória do pai, também poeta. Sua narrativa em prosa é caracterizada como poética. Você se sente mais poeta ou romancista?
MC: Eu sou um poeta que tem a ousadia de entrar no universo da ficção. Mas eu não acredito muito nessas fronteiras. Quem pensou na fronteira entre a prosa e a poesia não era certamente nem prosador nem poeta, alguém outro.
O seu penúltimo livro traduzido para o francês, também por Elisabeth Monteiro Rodrigues, “As areias do Imperador”, foi uma nova versão do original. Neste, também há a advertência de que a tradução foi feita a partir do original revisado por você. As traduções são uma oportunidade de reescrita?
MC: Sem dúvida, sobretudo quando se trabalha com uma tradutora da qualidade da Elisabeth que dialoga com o autor, que se interroga sobre coisas que às vezes passaram ao autor, ao revisor, ao primeiro editor do livro. Ela descobriu algumas incoerências que era preciso resolver. Em todos os casos, um tradutor reescreve um pouco um livro. Não há uma coisa chamada passagem de uma língua para a outra que seja completamente inocente, isto é, ela tem de reescrever em francês às vezes como se fosse ela própria a autora dessa versão.
Os paradoxos da colonização continuam te interpelando e seu próximo livro vai abordar as agruras de um colonizador português?
MC: É que a gente fala da colonização, do fenômeno colonial, como se fosse uma coisa do passado. Mas a colonização não foi superada no sentido da relação colonial que se tem com esses países ou que eles têm consigo próprios. Nós vemos em Moçambique e mesmo no Brasil, que tem 200 anos de independência, como essa herança colonial persiste e se quer reproduzir. Pode haver uma ruptura ao nível político. O país pensa que tem uma bandeira, tem um hino, mas do ponto de vista da sua relação com o mundo, da sua relação interior, de como as pessoas se definem numa certa hierarquia racial, social, tanto um como outro país que estou citando agora, Brasil e Moçambique, continuam a ter fortemente presente essa herança colonial.
Você tem com frequência comentado a situação política no Brasil. O que achou do resultado do primeiro turno?
MC: Eu, como tenho uma natureza pessimista, tinha uma grande esperança, mas não tinha uma grande convicção de que o Lula fosse ganhar. Acho que posso falar à vontade porque eu não sou brasileiro, não tenho que tomar opções partidárias, mas neste caso estamos perante uma situação que temos um candidato, que é o Lula, que representa a democracia, que representa o respeito pelas instituições, pela vida. Portanto, acho que a escolha agora não é só uma escolha política, mas uma escolha quase de civilização. Eu esperava muito que o Lula ganhasse, mas eu tinha também algum receio porque o problema não é só Bolsonaro, o problema é tudo que está por trás do Bolsonaro, esse Brasil que eu não sabia que existia e que existia com tanta dimensão.
Você falou das semelhanças entre Moçambique e Brasil, você teme que aconteça em seu país a mesma coisa que no Brasil?
MC: Acho que não é a mesma situação. Acontece em Moçambique um terrorismo de uma facção religiosa, do extremismo islâmico. O que existe no Brasil é um extremismo religioso também. Muito daquilo que é política no Brasil vem da força que essas igrejas evangélicas vêm tomando. Eu não sei dizer, não posso vaticinar nada, mas preocupa muito como isso cresça (em Moçambique), ao lado do reforço de um armamento da população. Portanto, há ali potencial para que se crie uma situação que pode ser mais violenta que o Brasil, que hoje já não é tão pouco violento assim.
No início de “O Mapeador de Ausências”, o personagem está deprimido e volta à cidade natal para tentar resolver esse problema e conseguir dormir. Você diz que é o seu livro mais autobiográfico. Como está o Mia Couto hoje?
MC: Na altura, eu percebi que eu não estava bem, que realmente, como acontecia com esse personagem, eu tinha dificuldades em ler, em me concentrar, em escrever e isso me preocupava muito. E quando fui ao médico, ele me disse que eu estava deprimido. Eu fiquei muito surpreendido porque eu tenho um temperamento que pensa que eu estava livre dessa condição, mas eu acho que não fico preocupado com isso, eu enfrento isso. Num mundo que está tão deprimido ele próprio, nenhum de nós pode estar normal. Há sempre uma ferida que fica olhando a situação de um mundo que a gente não sabe prever, não sabe entender.
Como diz um de seus personagens no final do livro, você tem de contar sua própria história para superar?
MC: Exatamente. A contação da sua própria história tem um efeito terapêutico enorme sobre nós próprios e sobre os outros, quer dizer, se eu escutar a sua história, eu fico melhor também. É uma espécie de um abraço que a gente dá.”
Você já ganhou vários prêmios literários, como o Camões, o principal prêmio da língua portuguesa. Este ano, aqui na França, você foi selecionado para os importantes prêmios “Femina” e “Melhor Livro Estrangeiro” e foi cotado para o Nobel. Qual é a sua expectativa?
MC: Nenhuma! Eu tenho essa relação com os prêmios que para mim eles não existem e quando existem, quando acontecem, obviamente eu fico muito feliz, mas não estou à espera deles. É uma espécie de um desencontro antecipadamente assumido.
Os grifos, em amarelo, no texto acima foram feitos por mim.
( Rosa Maria - Editora do Blog )











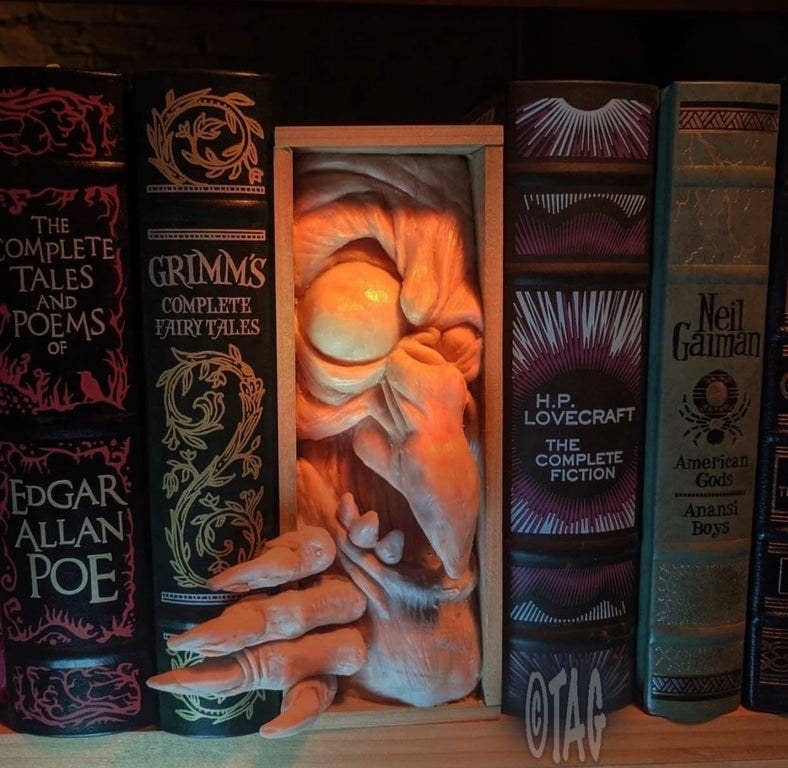



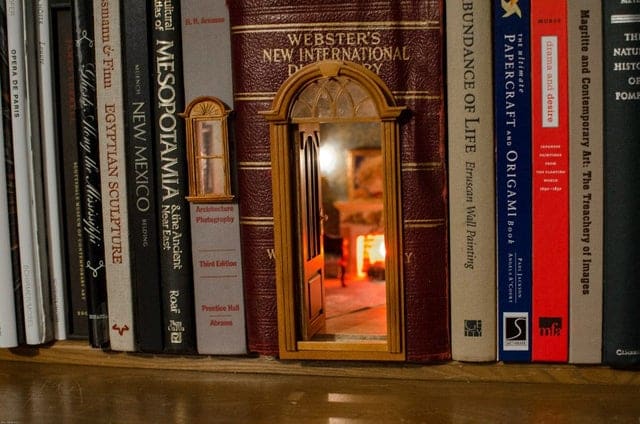






 Euzinha e um monte de coisa que não preciso! Marie Kondo, aquele beeeeeeijo, querida.
Euzinha e um monte de coisa que não preciso! Marie Kondo, aquele beeeeeeijo, querida. Gente, os gatos ficaram, tá? Eles são as coisas que SÓ me fazem feliz, aliás…
Gente, os gatos ficaram, tá? Eles são as coisas que SÓ me fazem feliz, aliás… Legal ter uma prateleira cheia, né? Mas pergunte-se: “Vou reler estes livros ou são enfeites?”
Legal ter uma prateleira cheia, né? Mas pergunte-se: “Vou reler estes livros ou são enfeites?”
 Que sensação linda essa de ver tudo em seu lugar : Nada me falta,
Que sensação linda essa de ver tudo em seu lugar : Nada me falta, ‘Miga, você não sabe…’ : Após dias de Desafio, o saldo é positivo. E teve
‘Miga, você não sabe…’ : Após dias de Desafio, o saldo é positivo. E teve